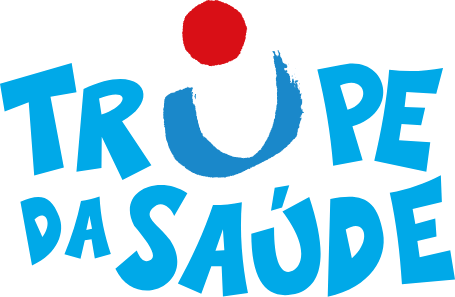A senhora fala, assim que entramos no quarto, da cantoria que ouviu deitada na sua cama e se pergunta debochada quem será que estava cantando tão apaixonadamente pelos corredores do hospital. Éramos: nós!, que estávamos a três portas de distância, em outro quarto e mesmo assim, por finíssimos fios de canção que entraram pelas frestas, nos enroscamos nas paredes do seu quarto, nos cobertores, no suporte de televisão, e já estávamos lá emaranhados entre pesares e suavidades antes mesmo de abrirmos a porta.
A porta abrimos em silêncio para evitar perturbações. A permissão para entrar pedimos com um sorriso e um gesto de mãos, e nos comunicamos entre nós com um aceno positivo da cabeça, sim, podemos entrar. Evitamos todo barulho para não acordar a outra senhora que na verdade nem estava dormindo, estava só de olhos fechados e fiou certeira: essa sanfona aí, é enfeite ou você também toca? Eu não (digo), mas ela (Iva Lourença), toca. E você então, toca o quê? Eu? Eu toco corações, digo nada humilde.
E tocamos. Começamos pela música que veio lá do outro quarto e havia chegado nesse antes de nós, esperando que a tocássemos. Era beijinho doce (que, por acaso, eu tinha comido de sobremesa), e as duas senhoras cantaram junto conosco – uma delas, de movimentos sufocados e olhar compenetradíssimo em nós, sabia a letra inteira e desfiou a canção conosco até o final. E, amarradas nessa música, chegaram as mocinhas da cidade que, por conta própria, puxaram o barbante de barbaridade que transportava duas carreiras de botão e uma chalana que foi sumindo lá na curva do rio onde, entre uma nota e outra, avistamos um fio de cabelo no meu paletó. Foram tantas emoções que mexeram com nossas nossas cabeças e nos deixaram assim, que me deu uma vontade louca de ir ao banheiro. Iva pediu desculpas pela minha deseducação, e eu corri dar voz às minhas necessidades. Pela porta, o som agudo a azedo do pum invadia o quarto, enquanto as acompanhantes davam risada e Iva se mantinha quieta e constrangida. Assim que volto aliviado, Iva pede licença para sairmos, serenando uma música improvisada sobre nosso encontro, barquinhos e gases.
Saímos ainda cantando e encostamos a porta deixando no quarto a quietude pós-encontro, que também é canção.
No corredor, nos olhamos, sorrimos porque foi bonito, passamos álcool nas mãos e nos instrumentos, abrimos uma nova porta onde dias antes eu e Siriema (e na outra semana eu e Fúcsia), fomos expulsas de um coral e, ainda assim, resistimos e cantamos dentro de nossas limitações e provamos que, sim, música é pra todo mundo. Afinar é possível, mas nem sempre preciso – importante é conectar com quem está e fazer com verdade musical.
Segue o baile, outra porta e encontramos uma amiga que, faz semanas, temos encontrado no mesmo quarto, acompanhando o marido, sempre inconsciente nas nossas visitas, mas que tocava música em borbulhas do seu equipamento de respiração, à qual somamos com nossas vozes e instrumentos, compondo canção que chega nos conscientes e inconscientes de quem permanece e quem passa. Choramos porque também foi bonito, e saímos para outro quarto em que a música era a abertura da novela da tarde, e o paciente, com um olhar de sabichão, sabia que nós éramos responsáveis daquele outro fio de canção que tinha ido parar no colo dele. Responsáveis talvez, mas não donos nem donas. A música era nossa, coletiva, pra cantar e apreciar em conjunto, como o silêncio, quando silenciar nos é solicitado ou quando, por si, ele já é o suficiente para a intensidade do encontro.
Já dava 17 horas e saímos correndo para não perdermos nossa carona, nossos sapatos alcançando notas esgarçadas no chão emborrachado do hospital, ainda dá tempo de desafinar um Shallow Now que a Fúcsia tinha esquecido na enfermagem outro dia, e de um Adeus Ano Velho, Feliz Ano Novo erguendo copos d’água pelas escadas em pleno julho.
No carro, voltando para nosso camarim no escritório, tiramos um tempo para gravar um vídeo para uma mãe que conhecemos no outro hospital, eu e Bonito, e que disse que tem mais de 6.000 composições inéditas. Escolhemos uma delas e cantamos, entre roncos de motor, buzinas e cliques de pisca-alerta.
Nós, que somos nós, desmontamos as maquiagens, os figurinos, em conversas e aquietamentos, e tem vezes que, horas mais tarde, em nossas casas muito engraçadas, tomando banho, achamos no meio do cabelo um fio que não é meu, nem delas, mas nosso, e que ficou emaranhado em mim, em nós, entre nós, e que não era mais o mesmo fio do paletó, porque aquele mesmo já tinha ganhado novos tons, era um fio novo de uma música conhecida, que chegou junto comigo ou já estava lá, esperando ser cantado em voz alta ou em silêncio, e que trazia lembrança do encontro mas também de toda uma vida vivida dentro e fora do hospital.
Bruno Lops / Lourdes
Julho 2019